Em 2004, eu completava 15 anos. Até então, meu presente de aniversário habitual havia sido sempre o livro mais recente do Harry Potter e um ou outro do Terry Pratchett. Eu adorava, mas, na verdade, minha família nunca foi muito boa nisso de presente. Os 15 anos, porém, eram o tipo de data que, se não pedia um baile de debutante, pelo menos exigia discretamente um presente mais notável. Foi por isso que meu pai me levou ao Iguatemi no dia 23 de janeiro, comprar o que eu quisesse, desde que ele pudesse pagar. Acabei escolhendo um CD player Britânia prateado, miudinho e redondo. O volume não subia essas coisas todas, os CDs tendiam a enganchar e ele tinha gosto musical próprio, tocando só o que gostasse, mas, para o bem ou para o mal, foi nesse aparelhinho de som que ouvi a maior parte dos anos 2000. Na verdade, foi ali que ouvi os primeiros discos da minha vida.
Minhas primeiras noções de rock eram atreladas ao new-metal do Linkin Park e Limp Bizkit e ao pop rapeado do Gorillaz, além de uma tonelada de bandas parecidas de metal melódico. É, eu era assim. Só depois descobri que o rock chegou aos anos 2000 como um zumbi faminto de cérebros e mídia, dado como morto repetidamente em praticamente todas as décadas desde 1960. A década de 90 finava dormente de tanto grunge, entrando numa espécie de espiral de experimentações sujas de guitarra como as do Sonic Youth (num processo até semelhante ao surgimento do rock progressivo da década de 70) e as rádios de repente pareciam ter decidido que juntar cantoras e rappers era uma coisa super cool que deveria ser tocada o tempo todo. Na época, claro, eu não dava a mínima, ocupado que estava em me esgoelar cantando Crawling e em aprender a letra de Californication. Claro, tive meus contatos com outros sons, importantes ou não, como Nirvana (primeiro CD pirata que comprei), Red Hot, Guns’n’Roses e todas as bandas-padrão da adolescência fortalezense- quem mora aqui sabe-, quiçá mundial.
Mas só posso considerar um marco zero musical o ano de 2004. Foi nesse ano que aconteceu de ouvir pela primeira vez o Ventura do Los Hermanos e, a partir deles, as duas bandas mais importantes dos anos 2000. Is this it do Strokes e o homônimo do Franz Ferdinand foram minha revolução punk particular. Os dois eram bem diferentes entre si, mas, pra mim, representavam mais ou menos a mesma coisa. Um som trabalhado que não devia ser levado a sério, na maior parte livre de toda a pieguice ou drama de tudo o que eu já ouvira e, o mais importante, às vezes mais pesado que guitarras hiper-distorcidas e vocalistas berrantes.
Com os Strokes, tenho uma dívida eterna. Foi o primeiro álbum deles que me pegou pela mão e me levou para longe do rock pasteurizado pela produção pesada até a bela e verdejante terra da Guitarra, Baixo e Bateria combinados de formas extáticas e terríveis por incontáveis bandas através da história. Até hoje, Is This It é um dos álbuns mais redondos que já ouvi e até suas músicas “menores” seriam o orgulho e hit de qualquer bandinha indie. A banda em seu primeiro disco é de uma rebeldia tão sincera e completamente sem rumo que desarma. Casablancas, ao lado de sua galera jaqueta-preta-óculos-escuros, ainda é só um moleque cheio de espinhas mergulhado até o pescoço em niilismo e desconforto. Ao falar de amor cita o SOMA (droga alienante de Aldous Huxley em “Admirável Mundo Novo”), exulta ao xingar os policiais de Nova Iorque e resume suas ações como algo que nem espaçonaves entederiam. Tudo sobre o pulso dançante da bateria de Moretti e os riffs de duas guitarras que se entrelaçam como se fizessem amor no meio de uma guerra. Se a rebeldia política do punk já soa como anacronismo, Julian condensa outro tipo de rebeldia inconformista e agressiva contra todas as pequenas contradições e incompreensões da sociedade. Como um Holden Cauldfield turbinado, ele diz não dar a mínima (“I don’t give a shit”) mas a verdade mesmo é que não entende nada (“I wanna know, I Just can’t figure out... nothing”).
O que me leva ao Franz Ferdinand. Se os Strokes são uns moleques deslocados que ficam num cantinho do pátio na hora do recreio, os caras do Franz Ferdinand são aqueles desenrolados que falam com todo mundo, não levam ninguém a sério e não estão nem aí pro fato de terem bombado em todas as matérias. Olhe para eles: escondido por todo o seu primeiro álbum eles ostentam aquele meio-sorriso de quem entendeu a graça da Grande Piada. O Franz Ferdinand é motor e filho direto do espírito apocalíptico do século XXI; a mesma Diversão pela Diversão que iguala Klaxons e Bonde do Rolê, Britney Spears e Bonde das Impostoras, tudo num só pacote de músicas pra dançar sem se importar com o que se ouve. Eles sabem disso: sabem que é muito mais fácil o vídeo do Kingsize ser visto 1 milhão de vezes do que uma boa canção, sabem que a autoparódia é uma espécie de curva ascendente que só pode desembocar no grotesco. Eles sabem e estão se cagando de rir.
Franz Ferdinand, o álbum, é um desfile de ritmos dançantes e bem arrumados e letras que não se levam a sério. Como seus predecessores do Gang of Four, o Franz aponta um baixo bem mirado e uma bateria sem piedade para pequenices da mente humana (a nossa mente) que adquirem um tamanho desproporcional exatamente no lugar em que menos se pensa: a pista de dança. Assim, a provocação homossexual de Michael é simplesmente dançada, a futilidade de Jaqueline é cantada sem escrúpulos e o libelo antiescolar de Matinee se torna um hit de guitarrinha swingada. E lá estamos nós, gritando que, sim, você deve dançar comigo porque sou sexy e sou um homem e que eu trabalho mesmo só quando preciso de dinheiro e estou vivo, mas por chips e liberdade, eu bem poderia morrer. E assim nos tornamos a nossa autoparódia, gritando alto nossas próprias incongruências e dançando embalados pelo ritmo marcial e pela voz de Kapranos (ele em si uma paródia dândi do próprio escárnio). Se os Strokes são a “banda rebelde” do século XXI, o Franz é a banda nojenta, num sentido completamente wildeano.
Essas duas bandas acabaram influenciando boa parte do que se produziu na década e, pelo menos pra mim, foi como uma passagem do rock progressivo ao punk. E foi assim que eu mais ou menos abri a cabeça pra dezenas de outras bandinhas dos bons e velhos anos 2000, como White Stripes, Libertines, Arctic Monkeys, The Killers, Kaiser Chiefs e por aí vai. Tudo desfilando em CD-Rs gravados em casa tocados no meu aparelho de som, prateado, redondo e miudinho e que ainda está por ali, na casa da minha mãe, servindo como rádio e se recusando a tocar CDs. Provavelmente porque ele acha que o rock morreu.
Minhas primeiras noções de rock eram atreladas ao new-metal do Linkin Park e Limp Bizkit e ao pop rapeado do Gorillaz, além de uma tonelada de bandas parecidas de metal melódico. É, eu era assim. Só depois descobri que o rock chegou aos anos 2000 como um zumbi faminto de cérebros e mídia, dado como morto repetidamente em praticamente todas as décadas desde 1960. A década de 90 finava dormente de tanto grunge, entrando numa espécie de espiral de experimentações sujas de guitarra como as do Sonic Youth (num processo até semelhante ao surgimento do rock progressivo da década de 70) e as rádios de repente pareciam ter decidido que juntar cantoras e rappers era uma coisa super cool que deveria ser tocada o tempo todo. Na época, claro, eu não dava a mínima, ocupado que estava em me esgoelar cantando Crawling e em aprender a letra de Californication. Claro, tive meus contatos com outros sons, importantes ou não, como Nirvana (primeiro CD pirata que comprei), Red Hot, Guns’n’Roses e todas as bandas-padrão da adolescência fortalezense- quem mora aqui sabe-, quiçá mundial.
Mas só posso considerar um marco zero musical o ano de 2004. Foi nesse ano que aconteceu de ouvir pela primeira vez o Ventura do Los Hermanos e, a partir deles, as duas bandas mais importantes dos anos 2000. Is this it do Strokes e o homônimo do Franz Ferdinand foram minha revolução punk particular. Os dois eram bem diferentes entre si, mas, pra mim, representavam mais ou menos a mesma coisa. Um som trabalhado que não devia ser levado a sério, na maior parte livre de toda a pieguice ou drama de tudo o que eu já ouvira e, o mais importante, às vezes mais pesado que guitarras hiper-distorcidas e vocalistas berrantes.
Com os Strokes, tenho uma dívida eterna. Foi o primeiro álbum deles que me pegou pela mão e me levou para longe do rock pasteurizado pela produção pesada até a bela e verdejante terra da Guitarra, Baixo e Bateria combinados de formas extáticas e terríveis por incontáveis bandas através da história. Até hoje, Is This It é um dos álbuns mais redondos que já ouvi e até suas músicas “menores” seriam o orgulho e hit de qualquer bandinha indie. A banda em seu primeiro disco é de uma rebeldia tão sincera e completamente sem rumo que desarma. Casablancas, ao lado de sua galera jaqueta-preta-óculos-escuros, ainda é só um moleque cheio de espinhas mergulhado até o pescoço em niilismo e desconforto. Ao falar de amor cita o SOMA (droga alienante de Aldous Huxley em “Admirável Mundo Novo”), exulta ao xingar os policiais de Nova Iorque e resume suas ações como algo que nem espaçonaves entederiam. Tudo sobre o pulso dançante da bateria de Moretti e os riffs de duas guitarras que se entrelaçam como se fizessem amor no meio de uma guerra. Se a rebeldia política do punk já soa como anacronismo, Julian condensa outro tipo de rebeldia inconformista e agressiva contra todas as pequenas contradições e incompreensões da sociedade. Como um Holden Cauldfield turbinado, ele diz não dar a mínima (“I don’t give a shit”) mas a verdade mesmo é que não entende nada (“I wanna know, I Just can’t figure out... nothing”).
O que me leva ao Franz Ferdinand. Se os Strokes são uns moleques deslocados que ficam num cantinho do pátio na hora do recreio, os caras do Franz Ferdinand são aqueles desenrolados que falam com todo mundo, não levam ninguém a sério e não estão nem aí pro fato de terem bombado em todas as matérias. Olhe para eles: escondido por todo o seu primeiro álbum eles ostentam aquele meio-sorriso de quem entendeu a graça da Grande Piada. O Franz Ferdinand é motor e filho direto do espírito apocalíptico do século XXI; a mesma Diversão pela Diversão que iguala Klaxons e Bonde do Rolê, Britney Spears e Bonde das Impostoras, tudo num só pacote de músicas pra dançar sem se importar com o que se ouve. Eles sabem disso: sabem que é muito mais fácil o vídeo do Kingsize ser visto 1 milhão de vezes do que uma boa canção, sabem que a autoparódia é uma espécie de curva ascendente que só pode desembocar no grotesco. Eles sabem e estão se cagando de rir.
Franz Ferdinand, o álbum, é um desfile de ritmos dançantes e bem arrumados e letras que não se levam a sério. Como seus predecessores do Gang of Four, o Franz aponta um baixo bem mirado e uma bateria sem piedade para pequenices da mente humana (a nossa mente) que adquirem um tamanho desproporcional exatamente no lugar em que menos se pensa: a pista de dança. Assim, a provocação homossexual de Michael é simplesmente dançada, a futilidade de Jaqueline é cantada sem escrúpulos e o libelo antiescolar de Matinee se torna um hit de guitarrinha swingada. E lá estamos nós, gritando que, sim, você deve dançar comigo porque sou sexy e sou um homem e que eu trabalho mesmo só quando preciso de dinheiro e estou vivo, mas por chips e liberdade, eu bem poderia morrer. E assim nos tornamos a nossa autoparódia, gritando alto nossas próprias incongruências e dançando embalados pelo ritmo marcial e pela voz de Kapranos (ele em si uma paródia dândi do próprio escárnio). Se os Strokes são a “banda rebelde” do século XXI, o Franz é a banda nojenta, num sentido completamente wildeano.
Essas duas bandas acabaram influenciando boa parte do que se produziu na década e, pelo menos pra mim, foi como uma passagem do rock progressivo ao punk. E foi assim que eu mais ou menos abri a cabeça pra dezenas de outras bandinhas dos bons e velhos anos 2000, como White Stripes, Libertines, Arctic Monkeys, The Killers, Kaiser Chiefs e por aí vai. Tudo desfilando em CD-Rs gravados em casa tocados no meu aparelho de som, prateado, redondo e miudinho e que ainda está por ali, na casa da minha mãe, servindo como rádio e se recusando a tocar CDs. Provavelmente porque ele acha que o rock morreu.
Márcio Moreira
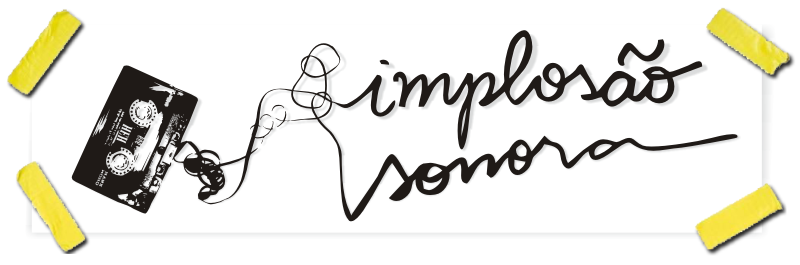


Nenhum comentário:
Postar um comentário